Quando criança, Rodolfo Silva gostava de fazer pequenos experimentos com formigas. "Eu punha álcool ou perfume numa tampinha de refrigerante, e botava a formiga lá dentro", ele conta. Queria ver como o inseto respondia, como reagia. "Depois tirava e punha num pote com água para lavar e soprava para secar, assim a formiga continuava viva." Para o pequeno Rodolfo, aquilo não era maltratar as formigas (algumas não morriam). Tudo era pura curiosidade. "Coisa de criança, sabe? De se sentir dona do mundo."
Quase duas décadas depois, Silva se formou biólogo pela Universidade Federal de Alagoas. E saiu da Grota do Cigano, periferia de Maceió, para pesquisar biologia evolutiva em um doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. A vida não era fácil, e o estudo era a única saída possível. "Quando você vem de uma lógica de escassez, se agarra a toda oportunidade que aparece", ele conta. Nessa época ele não investigava mais formigas, mas minhocas —especialmente as marinhas, conhecidas como poliquetas.
Além de alimento para peixes, minhocas bentônicas —as que vivem no fundo do mar— são muito eficientes em transformar matéria orgânica em biomassa animal —uma massa feita de restos desses organismos, usada para gerar energia. Ao se mover em meio à areia depositada no assoalho dos oceanos, elas ajudam a oxigenar o ambiente em que vivem, cheio de sedimentos. Durante o doutorado, Silva se debruçou sobre a diversidade de minhocas em ilhas como Fernando de Noronha e Atol das Rocas.
Até então, cinco espécies eram conhecidas nesse tipo de ambiente. Ele elevou esse número para 44. Doze eram novas para a ciência e das que descreveu, três são especiais: Branchiosyllis belchiori, Branchiosyllis gonzaguinhai e Salvatoria marielleae. O batismo científico desses anelídeos é uma homenagem aos cantores Belchior e Gonzaguinha, e à vereadora Marielle Franco, morta em 2018.
Os nomes foram parar em uma página popular de etimologia científica nas redes sociais. A minhoca batizada em homenagem à Marielle Franco fez barulho. "Gerou um hate absurdo. Muita gente me enviou mensagem perguntando por que eu misturava ciência com política, dizendo que eu deveria ter o mesmo destino que ela. Muitas mensagens absurdas", conta o biólogo.
O interesse por minhocas marinhas —que lhe rendeu o apelido "Doutor Minhoca" por parte dos amigos do grupo carioca de maracatu Baques do Pina— vai além de entender sua diversidade. Em pesquisa de pós-doutorado na Universidade Federal Fluminense, Silva quer estudar esse grupo de animais para entender o que determina a dimensionalidade de comunidades biológicas, usando as marinhas ao longo da costa brasileira como modelo.
Em estudos ecológicos sobre a biodiversidade, dimensionalidade é uma característica emergente das comunidades de animais, plantas e microrganismos. Tem a ver com as várias "dimensões" a partir das quais é possível caracterizar uma comunidade de diferentes espécies.
"Numa amostra de uma comunidade, contamos quantos indivíduos tem ali. Isso se chama abundância", explica Silva. "Daí contamos quantas espécies tem ali. Isso se chama riqueza de espécies, que é outra forma de representar a biodiversidade daquela comunidade."
O balanço de distribuição de indivíduos em diferentes espécies numa amostra dá a ideia de quão diversa uma comunidade é. Diversidade é, então, outra maneira de entender a biodiversidade. A lista de métricas para medir a biodiversidade de uma comunidade parece interminável: vai de atributos físicos e funcionais de espécies até a forma como elas interagem com o ambiente ao redor. "Mas, paradoxalmente, quanto mais métricas calcularmos, mais o conceito de biodiversidade, que é uno, se fragmenta," diz Silva.
Silva quer entender quais dessas métricas para medir a biodiversidade estão ou não correlacionadas e capturam mais informação sobre a biodiversidade. "O nível de correlação entre as diferentes métricas determinará a quantidade de dimensões necessárias para acessar aquela biodiversidade de forma efetiva," explica.
Quanto menos relação entre elas, mais dimensional ou mais complexa uma comunidade é. "Se a riqueza de espécies se comporta de forma diferente da riqueza de atributos funcionais da comunidade, então temos uma ideia de complexidade", conta ele. Porque se essas duas métricas estão correlacionadas, ou "apontando para um mesmo lado, elas vão basicamente dizer a mesma coisa" sobre aquela comunidade, que será menos dimensional.
Quanto maior a dimensionalidade de uma comunidade, mais atenção e mais ações de proteção ela pode precisar. O estudo da dimensionalidade pode ajudar a orientar políticas de conservação de uma maneira mais completa do que as implementadas atualmente. "Quando você considera a dimensionalidade, você considera características das comunidades. Uma comunidade mais dimensional tem mais informação para ser protegida, para ser resguardada", diz ele.
A dimensionalidade varia ao longo do espaço, e algumas comunidades são mais dimensionais do que outras. O mistério é entender que elementos governam a dimensionalidade em ambientes diferentes —como o marinho, por exemplo.
O conceito é de 2014 e ainda há muito a se entender sobre ele. "Um trabalho importante sobre morcegos mostrou que a dimensionalidade deles é maior nos trópicos e menor em direção aos polos —mas um estudo do ano passado mostrou que, com tubarões, acontece algo diferente. A dimensionalidade era maior no polo norte e diminui em direção ao sul. Ainda não se sabe o porquê disso".
A expectativa é de que os invertebrados, como as minhocas, ajudem a chegar mais perto de uma resposta. "Esses organismos são menores e vivem em contato tão íntimo com o fundo dos oceanos que mesmo as menores variações são capazes de produzir efeitos na organização de suas comunidades," diz Silva. A ideia é cruzar análises de DNA de espécies —sua dimensão genética— com suas características morfológicas e fisiológicas —ou atributos funcionais— e suas relações de parentesco (sua dimensão filogenética) da costa do Oiapoque até a Barra do Chuí, sul do Rio Grande do Sul.
Esse será um trabalho calcado na taxonomia e ecologia marinha. "Para se trabalhar com ecologia, biogeografia, para se extrair compostos químicos para fazer medicação, é preciso saber que espécie é aquela, que nome ela tem, onde ela ocorre. Tudo isso é um trabalho que tem como base a taxonomia sistemática", conta Silva.
E esse é um trabalho mais importante do que parece. "A zidovudina (ou AZT), primeiro composto para tratar o vírus HIV, foi extraído de uma esponja marinha. E isso só foi possível porque alguém estudou a esponja antes, deu nome para ela e anotou onde aquela esponja podia ser encontrada", conta Silva. "A taxonomia não está em alta, mas é extremamente importante".
*
Meghie Rodrigues é jornalista de ciência.
O blog Ciência Fundamental é editado pelo Serrapilheira, um instituto privado, sem fins lucrativos, que promove a ciência no Brasil. Inscreva-se na newsletter do Serrapilheira para acompanhar as novidades do instituto e do blog.
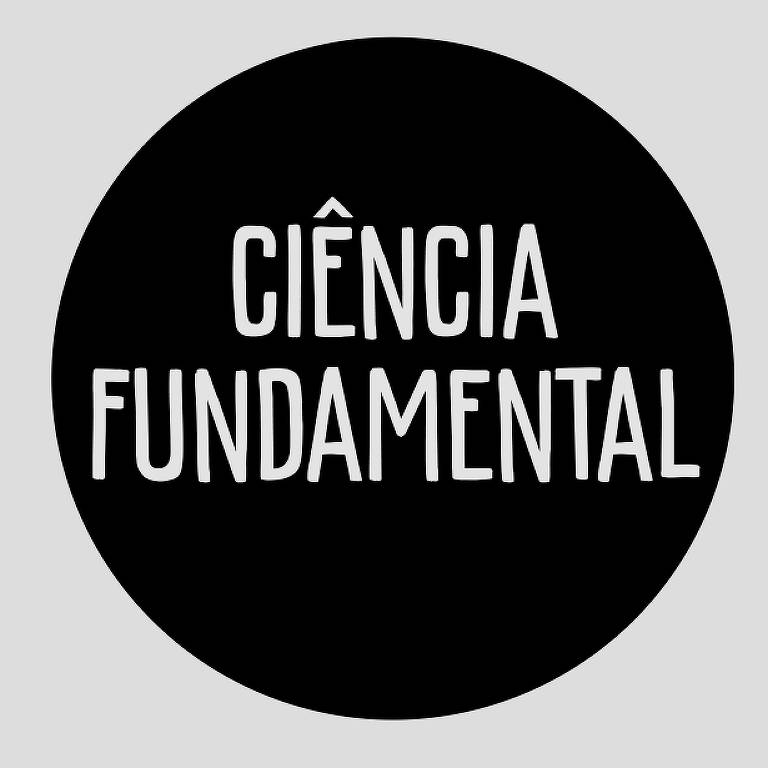





Comentários
Os comentários não representam a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem.