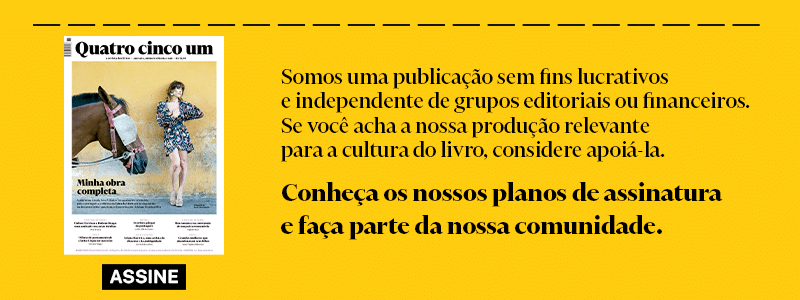Política,
Abandonar um filho
Ao refletir sobre mulheres que deixaram a prole para trás, autora questiona por que a maternidade cobra tanto de todas nós
01maio2024 - 04h00 • 13maio2024 - 15h32Há dois tipos de mãe ruim, a Nutella e a raiz. A primeira versão, pop na internet, preconiza uma mulher que compra um bolo qualquer para o aniversário do filho em vez de assar um com farinha especial e frutas orgânicas, ou que larga a criança vendo Peppa Pig para trabalhar quando poderia estar construindo ao lado dela um brinquedo montessoriano com madeira sustentável.
Essa aí é a “mãe ruim do bem”, que coleciona likes subvertendo com muita parcimônia o ideal de maternidade aspirado pelas classes mais abastadas.
Mais Lidas
A jornalista catalã Begoña Gómez Urzaiz está mais interessada no segundo tipo: mulheres que abandonam sua prole não por circunstâncias brutais do destino que a deixam sem escolha, como maridos abusivos e guerras, mas porque em algum momento entenderam que aquele papel não se adequava a elas.
Homens sempre renunciaram à custódia dos filhos sem julgamentos tão pesados, enquanto a mulher que faz o mesmo é condenada à morte social
As abandonadoras (Zahar) começa com uma inquietação da autora: por que logo ela, “tão trabalhada no feminismo”, não conseguia conter a fiscal moral que carrega dentro de si ao esbarrar com uma dessas mães rotuladas pela sociedade como ruins pra valer?
Homens sempre renunciaram à custódia dos filhos sem julgamentos tão pesados. É como se pegassem um tempo mínimo de detenção por uma falha moral já esperada deles, enquanto a mulher que faz o mesmo é condenada à morte social. Seria uma pena justa para quem ousa esquartejar o instinto materno, essa premissa enraizada em tantas culturas.
Se a gente organizar direitinho, toda mãe tem culpa no cartório. O século 20 foi farto em gatos retóricos vendidos como lebres científicas — estudos sem consistência que sugeriam como, da esquizofrenia ao autismo, tudo caía na conta das mulheres que ou protegiam as crias demais ou de menos, ou exerciam um carinho opressor ou encarnavam a “mãe geladeira”, pelo tratamento gélido dispensado à prole. A homossexualidade também seria fruto de uma relação patológica entre mãe e filho, tese defendida até por Betty Friedan no feminista A mística feminina.
Romance de estreia de Ayobami Adebayo discute questões de fertilidade e poligamia na Nigéria
Ir embora
Com mais ou menos culpa, ir embora foi o que fizeram as escritoras Doris Lessing e Muriel Sparks, a atriz Ingrid Bergman e a pedagoga Maria Montessori, que criou um método educacional que viraria queridinho na formação de elites — um dos homens mais ricos do mundo, Jeff Bezos, foi educado numa escola desse modelo.
Urzaiz também se ocupa de mães ficcionais que deixaram filhos para trás, como a protagonista do longa Carol (interpretada por Cate Blanchett), a Nora Helmer da peça Uma casa de bonecas, de Henrik Ibsen,ou a Anna Kariênina fabulada por Liev Tolstói.
O capítulo sobre Ingrid Bergman condensa alguns dilemas centrais do livro. Em 1940, a atriz escreveu uma carta a Roberto Rossellini na qual dizia ter adorado seus filmes Roma, cidade aberta e Paisà. Propôs na sequência: “Se estiver precisando de uma atriz sueca que fala inglês muito bem, que não esqueceu o alemão, que mal se faz entender em francês e que em italiano só sabe dizer ‘ti amo’, estou pronta para ir encontrá-lo e fazer um filme com o senhor”.
E foi se encontrar com o diretor, que a chamou para Stromboli e por ela largou esposa e amante. Ingrid deixou o marido e a filha Pia, de dez anos, nos Estados Unidos. Nesse meio tempo, engravidou de Rossellini e permaneceu na Itália. Mãe e primogênita ficaram separadas por seis anos em meio a um divórcio tenso, salvo “desconfortáveis visitas” da menina à Europa. Já adulta, Pia descreveu-as como tristes e impessoais.
Romance japonês se debruça sobre o corpo feminino e examina a condição da mulher e da maternidade
O adultério já bastou para Ingrid virar alvo do moralismo hollywoodiano vigente — que demolia as mulheres, enquanto quase que pedia desculpas pelo incômodo de esbarrar nos homens. Urzaiz nos lembra de Charles Chaplin e sua queda por adolescentes. “Suas sucessivas esposas tinham dezesseis, dezesseis, 21 e dezoito anos no dia do casamento”, escreve.
Ingrid só foi trabalhar com Ingmar Bergman, com quem compartilhava sobrenome e raízes suecas, em 1978. Ele a dirigiu em Sonata de outono, em que a sexagenária atriz encarnou uma mãe ruim raiz, acusação que espelhava a própria biografia. Charlotte, a personagem, é uma pianista que negligencia o cuidado das filhas em prol da carreira.
Ingmar, lembra a autora, “teve nove filhos com suas cinco mulheres e vangloriava-se de não saber suas idades”, justificando-se assim: “Meço o tempo por filmes, não por filhos”. Não há notícia de mulher inocentada pelo tribunal da opinião pública se disser algo similar.
Urzaiz não passa pano para essas mulheres, mas também não passa raiva com o desapego maternal que elas apresentam — algumas com graus maiores de sofrência, como Ingrid, que preferia a filha ao seu lado, outras com menos.
Abdicar da ‘opção virtuosa’ de se dedicar integralmente à função de cuidadora empurrada às mulheres é aceito socialmente em doses homeopáticas
Depois de virar mãe, Doris Lessing escreveu sobre não haver “nada mais tedioso para uma mulher inteligente que passar um tempo interminável com crianças pequenas”. Ela largou as dela, John e Jean, com o pai, mudou de país e nos anos seguintes construiu uma trajetória literária que lhe rendeu um Nobel de Literatura.
Outra figura evocada, Gala Dalí, tinha dificuldade em encontrar espaço para a filha que teve com o poeta Paul Éluard em sua vida. Musa do movimento surrealista, a russa se envolveu com Max Ernst e André Breton. Sua grande paixão foi Salvador Dalí, a quem num primeiro momento chamou de “pessoa desagradável” por causa do cabelo laqueado, que julgou lhe dar “a aparência de um dançarino profissional de tango argentino”, como ele lembraria em autobiografia.
Gala via a filha cerca de uma vez por ano. Cécile, já com 22 anos, fugiu de uma Paris prestes a ser tomada por tropas nazistas na Segunda Guerra e foi bater na porta do palacete que a mãe alugara no sul da França. Uma criada ia dispensá-la, por presumi-la impostora, dado que a patroa nunca havia mencionado sua existência. Man Ray e Marcel Duchamp, que jogavam xadrez na sala, reconheceram a jovem, que ficou alguns dias lá.
Que tipo de mãe é essa? Nem sempre é fácil simpatizar com as tais abandonadoras, e nem é essa a proposta da autora. É mais uma questão de empatia: essas mulheres são, afinal, uma hipérbole de tantas mães que se sentem sufocadas pela idealização da maternidade. É como diz um chiste popular nos círculos maternos: Deus me livre ser mãe, eu quero mesmo é ser pai, essa figura que com muitíssimo menos frequência precisa largar mão da carreira e dos cuidados pessoais depois do filho nascer.
Aqui o livro de Urzaiz é um par de jarros com Manifesto antimaternalista (Zahar), em que a psicanalista Vera Iaconelli fulmina a ideia de que a mulher é, por excelência e natureza, a melhor cuidadora que uma criança poderia ter. O instinto materno seria uma construção social fundida ao imaginário popular com tanta solidez que qualquer mulher, não importa quantos testes do feminismo gabaritou, muito provavelmente vai se corroer de culpa por não brincar de Lego com o filho para terminar um trabalho, um papo no WhatsApp ou uma taça de vinho.
Culpa acumulada
“Ser mãe, afinal, é um acúmulo de culpas que vão se sobrepondo sem medo de entrar em contradição entre si”, diz Urzais. No fundo, todas abandonamos todos os dias um pouco nossos filhos, e a culpa por deixá-los “é compatível com a culpa de recuperá-los” porque, quando estamos com eles, outros aspectos da vida caros a nós, mães, empacam.
Numa linguagem fluida, com bem-vindas doses de ironia e autodeboche, a catalã passeia pelos extremos para refletir sobre uma condição presente na vida das mulheres. Ela própria desaparecia da vista dos filhos para escrever seu livro, o que eu fiz também por alguns dias, com uma filha de quatro anos e outra recém-nascida, para terminar a leitura e articular esta resenha. Abdicar da “opção virtuosa” de se dedicar integralmente à função de cuidadora empurrada para as mulheres é aceito socialmente em doses homeopáticas, então menos mal.
“Se você quer fazer tudo bem, se aspira à medalha olímpica na categoria mãe, terá que entregar mais tempo, atenção e energia ao altar da maternidade”, diz Urzaiz. Oferecer-se como sacrifício a ele é uma hipótese que precisamos abandonar o quanto antes.
Porque você leu Política
Elas resistem, a democracia resiste
Angela Davis, Patricia Hill Collins e Silvia Federici destacam a força das mulheres negras na luta democrática
MARÇO, 2024