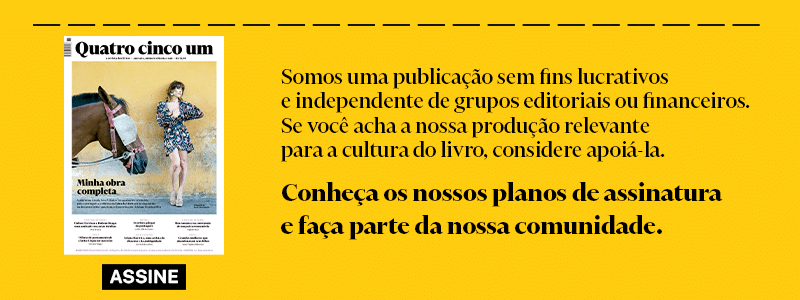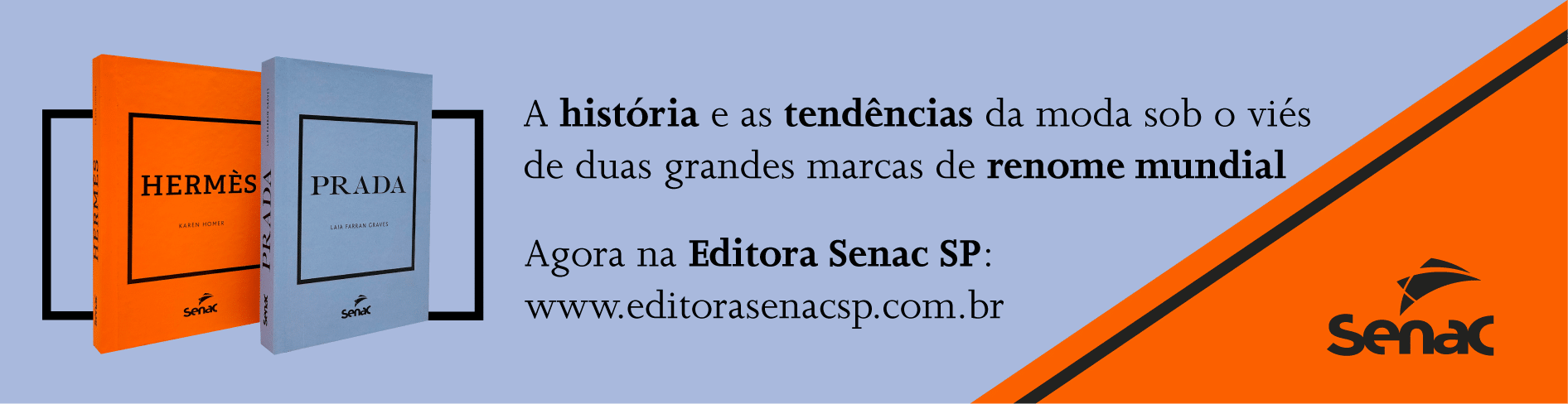Crítica Literária,
O homem está nu
Com repertório espantoso, Ligia Gonçalves Diniz expõe fragilidade do sexo forte e dispensa tom grave das análises literárias
17maio2024 - 17h56 • 27maio2024 - 11h21Eu sonhei que era um homem. Quando acordei, desorientada, pratiquei um exercício difícil: me imaginar com um pênis, mas não aquele atrofiado e freudiano. Enquanto fazia isso, me senti externa, confiante ou “feliz e mau como um pau duro”, como no verso de Caetano Veloso bem lembrado no interessantíssimo O homem não existe, de Ligia Gonçalves Diniz. Até que, num anticlímax definitivo, concluí que, expostos, externos e óbvios, nunca podiam fingir um orgasmo. Que melancólico deve ser ser um homem.

No volumoso Eva: como o corpo feminino conduziu 200 milhões de anos de evolução humana, a ser lançado em breve no Brasil pela Companhia das Letras, a norte-americana Cat Bohannon reúne pistas deixadas pela humanidade para revelar uma ausência: creditar a mulher como sujeito, e não objeto, na evolução da espécie. A ironia de um livro de mais de quinhentas páginas que trata de um tema escondido é justamente trazer à tona evidências desse silenciamento que serviu de suporte e fortalecimento do gênero e do ideal masculinos.
Mais Lidas
O outro lado dessa moeda — e sua parte mais documentada e normalizada — se expõem no domínio masculino e na sua construção cultural e social do mundo como o conhecemos. O homem não existe preenche quatrocentas páginas de uma pesquisa que se fundamenta e se aprofunda especialmente na fragilidade do sexo forte a partir de estudos literários. Ao se orientar na literatura, Diniz nos tira do lugar-comum quando discutimos o papel masculino no imaginário construído social, cultural e economicamente. O resultado é um texto que passeia com bom humor atrelado a investigação comprometida e que é puro deleite.
Um texto que passeia com bom humor atrelado à investigação comprometida e que é puro deleite
A coletânea, dividida em três partes, conta com uma ótima apresentação na qual a autora nos acorda para um aspecto que perpassa todos os ensaios: o de olhar, simplesmente, o corpo do homem, cultural e literariamente. Na passagem que abre o livro sobre Camus e sua vulnerabilidade no relacionamento com Maria Casarés, Diniz contrasta a doçura do “filósofo do absurdo” com sua entrega apaixonada e desmedida à atriz espanhola.
Nos doze capítulos com títulos dos mais sugestivos aos mais explícitos, como “Inútil lâmpada apagada” e “Alguns centímetros a mais”, Diniz se debruça com destreza e inteligência nos mais silenciosos sofrimentos e preocupações do mundo masculino e seus castelinhos de areia. Os ensaios esmiúçam temas como impotência, as nomenclaturas para o órgão sexual masculino, a ideia de tamanho como documento, a feia beleza de um homem, o desejo pelos corpos também masculinos, as comparações, a virilidade bélica, as relações, todos ricamente entrelaçados a exemplos e análises literárias. É espantoso o repertório da autora, que deixa expostos Freud, Platão, Roth, Bolaño, Melville, Montaigne, Pirandello, Sêneca ao mesmo tempo que menciona Brontë, Woolf, Beauvoir, Kanye West, Sex and the City e Seinfeld.
Criadores e criaturas
A coletânea de ensaios também levanta a questão que muito me interessa da constante e inútil preocupação, geralmente do leitor, em determinar autor, narrador, personagem e pessoa que escreveu a ficção. Ainda que aplicar esse elemento à análise literária seja problemático por trazer especulações, a autora se deixa seduzir pela possibilidade. O que pode cair em um leve didatismo, como na análise sobre o personagem de Philip Roth — reconhecimento honesto da irresistibilidade do imaginar:
Nathan Zuckerman é um machista autocentrado. […] Considerando que quem constrói narrativamente a coisa desse jeito não é Nathan (ele não existe na vida real: não podemos matá-lo nem nos casar com ele), e sim Philip Roth, é razoável, mas não obrigatório, pensar que também Roth era um bocado machista (e era mesmo). Agora, é uma operação bem diferente nos descolarmos de personagem e autor para classificar a saga Zuckerman como uma obra machista e descartá-la como desinteressante, perniciosa ou irrelevante. […] Como leitora e teórica, essa atitude não me interessa. […] De que outro modo eu poderia calçar os sapatos de um narcisista misógino?
Ainda nessa parte, intitulada “Pra toda obra”, Diniz levanta uma discussão importante nos debates da literatura contemporânea e na cultura de cancelamento. Atacar o texto que tem valor literário por meio de observações que, perigosamente, só levam em conta questões ativistas, como o antimachismo, pode ser contraproducente. A autora explora de forma excelente como isso coloca em risco crescente uma leitura crítica da literatura e seus elementos estéticos. Como exemplo, ela cita a escritora e ativista norte-americana Rebecca Solnit, criadora do termo “mansplaining”, que escreveu o ensaio “Oitenta livros que nenhuma mulher deveria ler” em resposta à lista de uma revista masculina que propunha oitenta livros que todo homem deveria ler (e continha apenas um título escrito por uma mulher).
Embora afirme acreditar que “todo mundo deva ler o que quiser”, Solnit pondera que muitos dos livros considerados fundamentais pela Esquire são “manuais de instrução” que ensinam aos homens o desprezo pelas mulheres ou “a versão da masculinidade que consiste em ser bruto e insensível”. Roth não poderia escapar da lista, assim como os outros “misóginos de meados do século” […] Não sou uma andrófila otária, mas me dá arrepios ver alguém que tanto admiro colocar Ernest Hemingway em sua “zona de não leitura”.
Erudição simples
O homem não existe é uma proposta ambiciosa pela amplitude de referências e aprofundamento de conceitos, mas é também uma proposta muito bem executada. É impraticável comentar todas as obras e temas trazidos pela autora, portanto destaco alguns deles, como a investigação sobre o conceito de beleza — algo tão perverso no mundo feminino e tão gentil na perspectiva masculina, por questões que Diniz vai valorizar em abordagens instigantes.
Um exemplo é o capítulo “As portas do paraíso”, em que a autora nos leva a conceitos desenvolvidos por Platão e Sócrates sobre a criação do amor erótico e do belo absoluto, a apreciação de corpos masculinos e a criação do outro, função menor e possível apenas aos corpos femininos. É um capítulo delicioso, com referências e associações sagazes que ligam construções conceituais pouco questionadas, precisamente pela permanência masculina como autor da sua própria civilização. O resultado é um livro robusto e imensamente abrangente, sem qualquer sombra de esnobismo.
Em trechos de Montaigne, Diniz analisa o senso macho de autocrítica — por tantas vezes silencioso e inexistente
As referências literárias contemporâneas, modernas e clássicas não seguem uma cronologia, e isso enriquece o texto, que se livra de um enquadramento rígido sendo coerente com a linguagem solta — um dos elementos mais nítidos no trabalho de Diniz. A linguagem claramente informal e com registros orais e pessoais aproxima o leitor das reflexões de maneira convidativa e espirituosa.
Antes de acompanhar a jornada desse herói, vale um breve comentário sobre a terminologia utilizada, que segue regras muito pessoais. Pênis é empregado em passagens que se propõem a ser mais objetivas ou — entre muitas aspas — científicas. Falo é o pênis ereto, geralmente tomado em seus sentidos simbólicos. Pinto é o órgão de homens que estão fora da minha esfera de atração sexual: pintos pertencem a pais, tios e outros parentes, a adultos que inspiram asco, a idosos bem caquéticos e, sobretudo, a crianças. Pau é o que uso para me referir a todos os outros homens, a não ser quando, no meio da frase, lembro que minha mãe vai ler este livro, e então uso pênis.
Trechos perspicazes e divertidos dão ao texto personalidade, mas houve momentos em que experimentei relativo cansaço pela persistência de um viés cômico. Em moderação, poderiam resultar em uma narrativa mais elegante, ao sugerir o riso em vez de insistir na gargalhada. Ainda assim, a informalidade da linguagem não compromete, em absoluto, a entrega de uma investigação séria por parte da autora, professora de teoria da literatura da Universidade Federal de Minas Gerais.
Entre passagens divertidíssimas, há aquelas sobre a aparência e a beleza (ou falta dela) dos homens. Em análise de ensaios de Montaigne, Diniz nos conta do senso macho de autocrítica — por tantas vezes silencioso e inexistente — e da elaboração da própria aparência. Diante da incontornável imagem de si mesmo e dos homens de estatura baixa, claramente uma característica que o mantém acordado, o ensaísta francês escreve:
Sou um pouco mais baixo que a média. Esse defeito não é apenas feio mas também impróprio, especialmente para aqueles em posição de comando, já que falta a eles a autoridade garantida por uma bela presença e um porte majestoso […]. Não há testa larga e arredondada, nem luminosidade e suavidade do olhar, nem nariz discreto, nem boca e orelhas pequenas, nem dentes brancos e regulares, nem uma barba escura densa e macia como a casca de uma castanha [!], […]nem corpo cheiroso, nem membros proporcionais que tornem um homem bonito.
Elencar textos e personagens para ilustrar, de forma consistente, uma proposta tão diferente como é a do livro de Diniz, faz de O homem não existe uma leitura obrigatória para quem valoriza a erudição abordada de forma simples, algo impressionantemente engenhoso de ser executado.Mais que isso, como leitora, presumiria que um objetivo desta publicação é justamente recusar o tom grave das análises literárias que intimidam o leitor comum, reduzindo sua acessibilidade ao cenário que prega aos já convertidos. Ampliar, especialmente por meio da linguagem, a teoria e a análise comparada da literatura que reconhecem e buscam toda sorte de leitor precisa ser uma prática de crescente valorização.
Despindo a tradição
Tentei evitar até aqui falar que esse é um livro feminista porque pode parecer uma conclusão apressada. No entanto, a maior contribuição, para esse aspecto, não é a obviedade de jogar luz ao homem e sua construção de masculinidade, que a autora recusa e que seria impossível. É reorganizar e ajustar o olhar crítico deste tempo, quando lemos, escrevemos e analisamos ensaios e pesquisas, agora de autoria feminina, desmanchando conceitos antes intocados e despindo ao osso a supervalorização unilateral da história.
Na apresentação, Diniz coloca uma questão que, se bem compreendida, será grande aliada para leituras mais críticas. Quem, afinal, nunca ouviu falar que os homens que liam os textos escritos por mulheres há séculos pensavam que aquela era uma literatura de mulherzinha, que falava de assuntos irrelevantes e domésticos, broxantes que só? A questão que a autora lança é pensarmos nos efeitos que uma tradição literária longamente masculina teve em nós leitores. Pensar neste repto passa pelo protagonismo, não da representação literária, mas da agência. Como se hoje eu pudesse finalmente questionar, sem constrangimentos, qual a razão da peça não se chamar Lady Macbeth. Será que teria faltado tinta?
Outra consequência crucial para o debate da tradição do domínio da narrativa centrada no masculino é a sua representação sexual na literatura, que se desdobra de forma conceitual e comportamental na sociedade e cultura. O que propõe a obra de Diniz não é ignorar e abortar a literatura. É, precisamente, ao invés, estudá-la para reconhecer que se uma história é contada inúmeras vezes, ela vira verdade.
Quem olha o homem e, surpreendentemente, descobre que o que existe é justamente o que foi feito e narrado dele, é também quem passa a estudá-lo retirando pedra por pedra. Ao olhar essa desconstrução munidas de análise e elaboração, entendemos que, afinal, a masculinidade não era nada demais. Era apenas um homem nu.