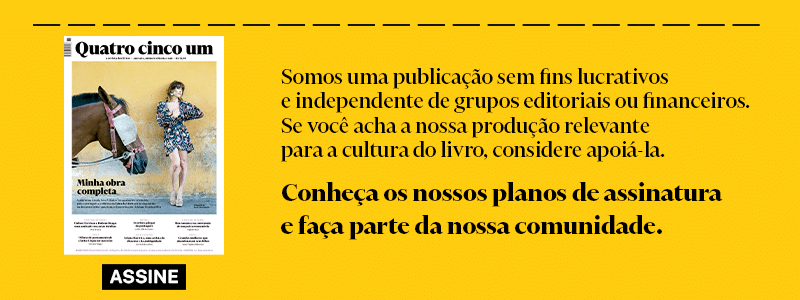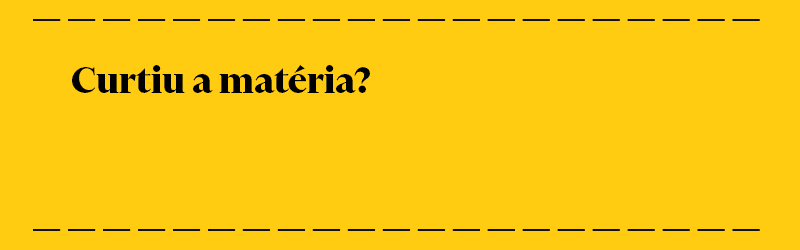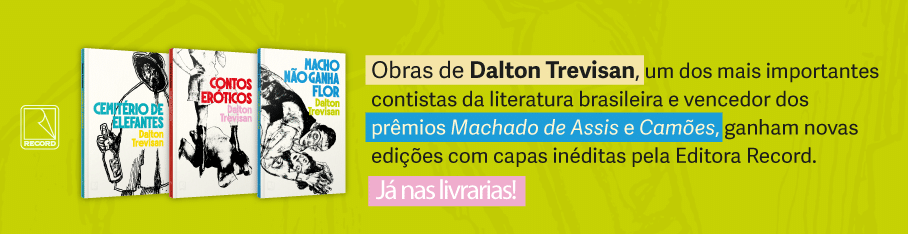Paulo Roberto Pires
Crítica cultural
Fogo cruzado
No centenário de James Baldwin, a entrevista que concedeu a Paulo Francis para o 'Pasquim' lembra a complexidade de intelectuais que jamais falaram o mesmo dialeto político
16maio2024 - 16h02O ano era 1972. Num apartamento no Village, em Manhattan, James Baldwin concedeu rara entrevista à imprensa brasileira. Papo solto, sem gancho em lançamento de livro ou no noticiário. Pelo que se conhece dos profusos registros do escritor, não é difícil imaginar seu tom de voz e os olhares hiperbólicos ao longo de uma conversa que parece ter rolado com certa formalidade e tensão — previsível, aliás, dado o temperamento de entrevistador e entrevistado. “Ele tem uma cara trágica, de vez em quando quebrada por um sorriso radioso. É gente. E muito”, observa Paulo Francis na abertura das três páginas publicadas no Pasquim em julho daquele ano. Lidas hoje, quando se comemora o centenário de Baldwin, elas trazem um retrato vivo dos impasses que o escritor então enfrentava. São ainda eloquentes da posição de Francis e, por tabela, do tipo de intelectual que representava.

Outras colunas de
Paulo Roberto Pires
Até onde eu tenha conseguido descobrir, Paulo Francis foi dos poucos brasileiros a entrevistar James Baldwin com mais vagar. Em 29 de novembro de 1963, Nahum Sirotsky, fundador da revista Senhor e então correspondente do Jornal do Brasil em Nova York, repercutira com o autor de Notas de um filho nativo o impacto do assassinato de John Kennedy, ocorrido uma semana antes, sobre o movimento pelos direitos civis. “O presidente Kennedy fez o que tinha de fazer. Para muitos negros, não foi o suficiente; para muitos brancos, foi demais”, diz ele, definido por Sirotsty como “um dos poucos artistas americanos que não vivem na torre de marfim dos homens de sucesso, mas nos subterrâneos da luta pela liberdade e igualdade de sua raça”.
Quase dez anos depois, o James Baldwin que Francis encontra passara por poucas e boas. A começar por sucessivos lutos, cívicos e íntimos, pelos assassinatos de Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King, as principais lideranças do movimento de direitos civis. Na arena pública, a radicalização da militância racializada, tendo à frente os Panteras Negras, desqualificara sua interlocução por vê-lo como alguém demasiadamente integrado ao establishment branco.
Nesse tempo, os embates políticos resultariam em importantes reuniões de ensaios: Da próxima vez, o fogo (1963) e No Name in the Street (1972), lançado aqui, no ano seguinte, como E pelas praças não terá nome. Depois do espantoso Terra estranha (1962), a ficção conhecia momentos menos fulgurantes nos contos de Going to Meet the Man (1965) e no romance Tell Me How Long the Train’s Been Gone (1968), traduzidos, com demasiada liberdade, como Um homem à minha espera e O preço da glória. Mantinha intocada, no entanto, a proverbial veemência. Como atesta, não sem galhofa, o entrevistador: “O rapaz está nervoso, não reparem”.
Hierarquização
Assim como muita gente boa na época, de lá e de cá, Francis se apegava à ideia de dois Baldwins, o intelectual público e o escritor, e da hierarquização entre eles. Exalta o ensaísta — “extraordinário, só tendo por competidor, nos EUA, Norman Mailer (num outro plano, Gore Vidal)” — em detrimento do autor de contos, teatro e romances — “li alguns, nenhum é grande coisa”. O jornalista, que nascera crítico de teatro, tornara-se fervoroso trotskista e não se interessava por outra coisa que não política.
Foram, aliás, as refregas com a ditadura militar que, por caminhos tortuosos, o puseram diante de Baldwin. Quatro prisões, ameaças variadas e vetos insidiosos a seu nome na grande imprensa empurraram Francis para Nova York, onde se instalou precariamente, em 1971, com uma bolsa da Fundação Ford. Ali nasceria, em desabalada carreira rumo ao reacionarismo de direita, o personagem histriônico consagrado nos comentários da tv. Mas naquele momento, ou pelo menos naquela entrevista, o que chama a atenção é a irreverência que, no sentido literal, parece ter sido abandonada, coitada, pelo jornalismo em geral.
Francis se apegava à ideia de dois Baldwins, o intelectual público e o escritor
“Você escreveu em The Fire Next Time há mais de dez anos que se a condição dos negros não mudasse nos EUA o pau ia comer. Bem, não mudou muito e o pau não comeu”, começa o entrevistador, dando o tom de suas intervenções. “Eu não marquei data”, corta Baldwin. “O que me interessou foi, dentro do melhor que me é possível, precisar a condição do negro, que é tanto o reflexo da opressão e crueldade generalizadas do racismo do branco americano, como das ilusões que os liberais tem a nosso respeito. A História nunca parou. Nem vai parar, acho eu, a menos, o que não é impossível, que nos destruamos uns aos outros”. “Mas vamos falar um pouco no negro americano”, observa Francis. “No negro, você quer dizer”, diz o entrevistado, que sempre busca retomar a condução da conversa.
Ao apresentar Baldwin, Francis adverte: “Não sou muito bom em datas e meu departamento de pesquisas está em férias — permanentes”. Conhecido por jamais checar as profusas referências com que adornava seus textos, ele confunde títulos de ensaios, datas, revistas em que Baldwin colaborou e até grafia: no Pasquim, o James é “Baldwyn”. No peculiar manual de redação do então correspondente do jornal, o fato sempre valeu menos do que a tese. E, no caso desta tese, ele erra na mosca.
Para Francis, apesar de ter se insurgido contra o negro idealizado da ficção americana — representado pelo Filho nativo, de Richard Wright, pai literário que ele trata de matar logo de saída —, Baldwin era politicamente frágil. E, na “era da Gay lib”(a expressão é dele), seria considerado covarde por só discutir “o próprio homossexualismo” (SIC) na ficção. O entrevistador, diga-se, não estava sozinho. Como parte expressiva dos intelectuais de esquerda de então, alimentava suspeições sobre as discussões de raça e gênero, que ainda engatinhavam e eram rechaçadas como diversionismo do que lhes parecia essencial: poder e classe, em suas manifestações clássicas.
“Você não acha que ‘psicologiza’ demais as coisas? Quero dizer, essa história de raças umas contra as outras. Eu concordo com você quanto à relação entre opressor e oprimido”, pontua Francis. “Acho que o negócio, em termos de nações, se divide entre ricas e pobres. E que, internamente, as sociedades refletem o que é uma estratégia global”. “Pode ser que você esteja certo, em última análise”, concede Baldwin. “Mas em termos concretos de existência cotidiana, o fator individual de raça pesa tanto quanto a opressão meramente econômica, ainda que decorra dela. E seja como for, a maioria pobre, mesmo em termos de nação, é não branca, não se esqueça. Logo, a diferença racial é um estímulo à opressão”.
Insistindo em minimizar a perspectiva racial, Francis argumenta que os “não brancos” são igualmente cruéis entre si, citando a conflagração de Biafra e do Burundi. “O que você quer? Mantidos como animais durante séculos, esperava que se comportassem como?”, diz Baldwin, exaltado, como a edição faz questão de sublinhar, no itálico que aparece no trecho seguinte.
A liberdade política desses povos é puro verniz, porque continuam presos ao neocolonialismo, explorados em tudo que poderia reverter em benefício deles. E há sempre o dedo colonialista armando os dois lados. O pobre, de qualquer raça, que espanca a mulher e o filho brutalmente, é um monstro, certo? Mas o que ele está fazendo, embora nem tenha consciência disso, é expressar a frustração do estado em que o obrigam a viver. Ele caricatura grotescamente a maneira como os senhores o tratam. Os senhores são os únicos indesculpáveis, porque tiveram todo o caminho aplainado e iluminado”.
Depois de imprecar contra a elite branca americana, Baldwin fulmina: “O teu argumento é igual ao dos vitorianos, que mantinham os pobres na imundície total e depois torciam o nariz quando passavam perto deles”.
Romance de Ralph Ellison e ensaios de James Baldwin discutem a busca da identidade dos afro-americanos
Dialetos distintos
Mesmo antes da guinada à direita do futuro autor de Cabeça de papel (Francis, 2002), os dois não falavam o mesmo dialeto político. No tempo das perseguições, foi na Civilização Brasileira, do amigo Ênio Silveira, que Francis encontrou um ganha-pão. Pela editora, a mais influente do Brasil, lançou em 1966 seu primeiro livro, Opinião pessoal. No ano seguinte, assina a orelha da primeira edição em português de O quarto de Giovanni, o romance que consagrou Baldwin literariamente, por muito traduzido apenas como Giovanni. E é o responsável pela publicação, no selo Biblioteca Universal Popular, de Da próxima vez, o fogo — que volta às livrarias, em julho próximo, pela Companhia das Letras.
Numa peculiar introdução ao livro, que ganhou o subtítulo “o racismo nos EUA”, editor espinafra escritor: “O defeito central do pensamento de Baldwin é uma certa incultura sociológica e política. Ele praticamente isola o elemento cor de outros que conduziram o negro à sua condição de inferioridade dentro da concepção dos brancos. A pigmentação da pele de cada um é apenas um dos lados do problema”.
Como parte dos intelectuais, o entrevistador alimentava suspeições sobre as discussões de raça e gênero
Na apresentação da entrevista, Francis afirma que, diante da militância radical, das propostas de luta armada, Baldwin, “o negro bem comportado da aristocracia intelectual americana”, teria ficado “curiosamente nu”. E, na conversa, não perde a oportunidade de fustigá-lo: “Por que você não se mete em política, a convencional ou a revolucionária?”. “Eu sou um escritor, Eldridge (Cleaver) é um escritor e um revolucionário. Quanto mais revolucionário ficou, menos escritor. Não o estou criticando. É uma opção”, diz Baldwin, serenamente, referindo-se ao ministro da Informação dos Panteras Negras, que no livro Alma no exílio (Soul on Ice) o critica em termos mais agressivos do que o aceitável.
Ele me atacou violentamente porque me acha crítico, mas parte da sociedade branca. É uma meia verdade. Um escritor tem de fazer parte da sociedade, ainda que como marginal, para entendê-la. Um revolucionário pode se dispensar esse sofrimento (enfrenta outros, bem sei). Mas eu não vou trair minha natureza que é descrever a experiência dos meus irmãos no nosso tempo, com o máximo de honestidade do que sou capaz.
Mesmo diante da altivez de Baldwin, Francis é incansável. Destaca as críticas negativas a No Name in the Street, que não teria novidade nenhuma em relação a Da próxima vez, o fogo. “Acho que há críticos que esperavam que eu escrevesse que a situação do negro melhorou porque agora os negros fazem comercial e até série de televisão”, observa o escritor. “Esse é o grau de aceitação que os negros têm na América. Virar mercadoria de balcão. E não nos iludamos, uma pequena parcela da classe média negra entrou pela porta dos fundos na grande venda que é este país. Mas a maioria está nas ruas, ou na prisão. Se houvesse uma segregação perfeita, poderiam jogar napalm e bombas nos guetos, mas sempre há uma mão-de-obra negra, mais barata, aproveitável. Acho que a solução que em breve vão propor é mais cadeias para os revoltosos”.
Ainda distante da defesa incondicional dos valores conservadores na cultura e na política norte-americanas, Francis insiste: “Você não vê nada que se aproveite nisso tudo?” Baldwin é categórico: “Absolutamente nada. A América é irredimível”.
James Baldwin morreria em 1987, aos 63 anos. Consagrado e um tanto melancólico, morava em Saint Paul de Vence, no sul da França. Dez anos depois, Francis sucumbia a um infarto. Aos 66, seguia em Nova York e trabalhava num romance que deixou inacabado. A posteridade o desmentiria tanto sobre os juízos que fez de Baldwin quanto em relação às desastrosas posições políticas que sombrearam o brilho de sua própria inteligência — de uma complexidade ausente nos epígonos reacionários que disputam seu legado.
Porque você leu Crítica Cultural
O contador de histórias
Morto na terça (30), Paul Auster (1947-2024) lembrou que literatura de qualidade não é incompatível com narrativas bem engendradas
MAIO, 2024