 Vamos começar com um argumento bem básico: porque você talvez nunca tenha lido um livro de 719 páginas. O volume, para uma geração que se comunica em emojis (outro dia, lendo sobre a participação de Bibi Ferreira - 92 anos e inspirada! - no programa "Roda Viva", fiquei imaginando como seria pedir para ela se expressar só com esses símbolos, mas sei que divago já no primeiro parágrafo, e isso depois de ficar quase duas semanas sem escrever nada aqui, o que é um evidente mau sinal...) - enfim, o ameaçador tijolo de 719 páginas é uma espécie de campanha do balde de gelo, sem a conscientização da doença que a provocou.
Vamos começar com um argumento bem básico: porque você talvez nunca tenha lido um livro de 719 páginas. O volume, para uma geração que se comunica em emojis (outro dia, lendo sobre a participação de Bibi Ferreira - 92 anos e inspirada! - no programa "Roda Viva", fiquei imaginando como seria pedir para ela se expressar só com esses símbolos, mas sei que divago já no primeiro parágrafo, e isso depois de ficar quase duas semanas sem escrever nada aqui, o que é um evidente mau sinal...) - enfim, o ameaçador tijolo de 719 páginas é uma espécie de campanha do balde de gelo, sem a conscientização da doença que a provocou.
Seria mais tentador, para essa mesma geração, se eu dissesse que o conteúdo do livro equivale a algo como 14.740 tweets? Considerando que um usuário devoto da rede social lê, digamos, uns 300 tweets por dia (como não usuário do Twitter - também não tenho Facebook nem Instagram oficial, é bom lembrar - posso estar exagerando na estimativa), ele "mataria" o volume em uns 50 dias, menos de dois meses! E as recompensas seriam enormes, garanto!
Não falo, claro, da recompensa imediata - o duvidoso prazer de saber que alguém chamou outro alguém de vagabundo (estou, claro, amenizando a linguagem que geralmente é usada nessa rede social de mensagens de no máximo 140 toques), ou que a amiga da sua amiga faz o melhor cupcake do mundo. Mas tenho em mente o prazer de ver uma história se desenrolar na nossa imaginação, graças aos frutos inesgotáveis da criatividade humana.
Não estou falando que não existem perfis criativos no Twitter - alguns que chegam até mim, por exemplo, via insistentes campanhas de amigos ou apenas conhecidos em grupos de WhatsApp são até espirituosos (ainda que, em termos de espertas associações de ideias, as piadas que recebia na época da Copa - lembra da Copa? - eram bem mais engraçadas). Mas eu tenho que acreditar que nossa capacidade intelectual - e aqui não uso a expressão como algo que define um pensamento excludente e elitizado, mas simplesmente uma capacidade do nosso cérebro - chegou até aqui para que trocássemos, entre nós, narrativas ligeiramente mais consistentes do que meros tuítes.
As 719 páginas em questão compõem a edição brasileira de "O pintassilgo", de Donna Tartt (lançado aqui no Brasil pela Companhia das Letras). Para quem tem no mínimo uma queda por livros, sua chegada às nossas prateleiras, há algumas semanas, é um acontecimento. Afinal, Tartt é a autora que, no início dos anos 90, no trouxe uma obra definidora daquela época - seu excelente romance de estreia, "A história secreta" (também lançado aqui pela Companhia das Letras). Os fãs - que sobreviveram a seu (às vezes deslumbrante, às vezes enfadonho) segundo trabalho "O amigo de infância" (Companhia também) - já estavam impacientes de esperar mais de duas décadas pelo retorno da escritora à boa forma. E quando, em abril deste ano, "O pintassilgo" (que saiu nos Estados Unidos no final do ano passado) ganhou o prêmio Pulitzer 2014 como melhor trabalho de literatura, a coroação estava completa.
Eu mesmo, em nome da transparência, devo me declarar um fã de seu trabalho. Ansioso que estava por sua chegada, fiquei tentando em ler este trabalho recente em inglês ("The goldfinch"), mas a exaustiva experiência de encarar seu trabalho anterior no original me afastou da ideia. Esperei pela tradução (assinada por Sara Grünhagen) e fico feliz em informar que, mesmo em português, a voz do protagonista adolescente (e depois jovem) Theo Decker não perde nada do seu frescor.
Em "O pintassilgo", o leitor é levado tão prontamente pela história, que só centenas de páginas adiante é que percebe que parte dessa sedução deve-se à mundanidade poética da linguagem usada - como, por exemplo, a opção por usar sempre "pra" (e mesmo "pro") no lugar de "para" (e "para o") em todo o texto. Uma decisão no mínimo curiosa uma vez que, em inglês, não consigo imaginar como isso estaria sugerido, uma vez que as ocorrências da preposição no original ("to", "for" etc.) já são coloquiais o bastante - mas eu divago novamente, e mal consegui avançar nas razões que queria expor aqui hoje para se ler um livro de 719 páginas...
Escrevi há pouco que o protagonista da história é Theo, mas eu talvez tenha cometido uma injustiça. Tartt, na sua engenhosa trama, talvez tenha usado o garoto apenas como desculpa alinhavar um arco maior em torno não de uma pessoa, mas de um quadro. É ele o "Pintassilgo", uma pequena pintura feita pelo holandês Carel Fabritius (aluno de Rembrandt, e provável influência de Vermeer) em meados do século 17, que, na ficção, está "visitando" o Metropolitan Museum de Nova York (na verdade, a tela reside no museu Mauritshuis, em Haia, na Holanda). Theo e sua mãe, fugindo da chuva, a caminho de uma reunião no colégio, estão admirando a exposição que tem o quadro como destaque, quando um ataque terrorista destrói várias galerias e parte das obras nelas penduradas. E também mata a mãe de Theo - então, com 13 anos.
Tentando entender o que aconteceu, o menino vaga pelos escombros e conversa com um senhor prestes a morrer - que lhe dá um anel, o nome de uma loja para entregá-lo ("Toque a campainha verde"), e sugere que ele "salve" o "Pintassilgo". Theo, atordoado, obedece a tudo - e vai para casa com a obra de arte, esperar sua mãe chegar depois de toda a confusão. Só que sua mãe não chega - e assim começa a aventura mais "dickensiana" que você já leu nos últimos tempos.
Custo a acreditar que levei tanto tempo para citar Dickens. Na maior parte das resenhas sobre "O pintassilgo", isso acontece logo nas primeiras linhas - e com razão. O venerado autor vitoriano ("Oliver Twist", "David Copperfield", "A pequena Dorrit", para citar apenas alguns de seus clássicos) é uma inspiração assumida de Tartt - e se a inteção era homenageá-lo, ou mesmo simplesmente provar que é possível escrever uma história "dickensiana" nos dias de hoje, eu diria que ela se superou nessa tarefa.
Entre outras façanhas - o Pulitzer, mais de um milhão e meio de cópias vendidas no merdado americano -, Tartt dividiu a crítica literária nos Estados Unidos. Em meio a rasgados elogios, uma turma liderada por ninguém menos que James Wood (da "The New Yorker"), por quem tenho infinita admiração, acusa a autora de exagerar nas coincidências para escrever um livro banal, que beira o pastiche (nas palavras de Wood, Tartt tem o talento de quem escreve para crianças). Mesmo reconhecendo alguns desses exageros (as dificuldades de comunicação entre os personagens, por exemplos, num mundo tão conectado como o nosso, são bastante improváveis), acho um problema menor diante do vulto do desafio que a própria Tartt se impôs. E no qual se saiu de maneira brilhante.
Percebo porém que estou falando generalidades. Os argumentos que expus até aqui, você pode encontrar melhor ou pior apresentados em qualquer texto sobre o livro. Mas o que eu queria mesmo é dar motivos "concretos" para você encarar "O pintassilgo", tentar encantar você como Donna Tartt me encantou: com elementos de uma história muito, mas muito bem contada. Assim, recomeço com a mesma pergunta que fiz acima: por que ler um livro de 719 páginas? Abaixo, algumas respostas:
Porque antes mesmo da centésima página, depois de ser oficializado "órfão" (ninguém consegue encontrar seu pai), Theo se divide entre a saudade da mãe, a rica família (os Barbour) de seu melhor amigo (Andy) que o adotou, e as injustiças que sofre na escola - tudo muito "Dickens", claro.
Porque quando seu pai finalmente aparece, com a hilária namorada Xandra, e leva Theo para morar com ele num desolado canto de Las Vegas - esqueça os cassinos feéricos, sua casa (o cenário mais forte que formei na minha mente ao longo do livro) é um fim de mundo à beira do deserto - é possível sentir ainda mais pena do pequeno órfão.
Porque é lá em Las Vegas mesmo que Theo fica amigo de Boris - o mais perdido e fascinante personagem da enorme galeria que Tartt apresenta em "Pintassilgo", que vai apresentá-lo para o mundo do álcool e das drogas, transformar a sua vida, e ensinar ao "protagonista" que a única coisa que realmente importa na vida é a amizade.
Porque depois de escapar de Vegas - fugindo de mais algumas circunstâncias trágicas da sua biografia - Theo volta, depois de uma improvável e rocambolesca viagem de ônibus, para Nova York e se aboleta com o dono do estabelecimento (um antiquário) para onde o senhor que ele conheceu (e viu morrer) na explosão do museu o mandou ir, descobrindo assim não só uma profissão, mas um jeito nada lícito de enriquecer.
Porque é nessa casa que ele alimenta sua paixão por uma menina ruiva, Pippa, que ele viu junto com o senhor que morreu (era sua sobrinha) e, em encontros esporádicos, experimenta pequenas redenções de seu coração desorientado.
Porque não só Boris, que tinha ficado para trás em Las Vegas, volta a aparecer na sua vida, mas vários dos personagens reaparecem, depois da metade do livro - considerando que você conseguiu chegar à página 360 com o mesmo entusiasmo do início da leitura - e fazem com que Theo se lembre (e que nós também nos lembremos) de que nada nessa vida é sem consequência.
Porque o "Pintassilgo", sempre que é lembrado, surge como um alerta de moral e de beleza, de lembrança e de salvação - até que, já nas últimas 200 páginas, ele vira "de fato" o pivô da história, transformando um livro num inesperado romance policial, transportando o leitor não só para boas cenas de ação, mas também para uma Amsterdã chuvosa e triste na véspera do Natal (a mesma cidade onde Theo escolhe para abrir sua história nas primeiras páginas, onde, relendo depois, é possível detectar várias pistas do que viria a seguir...).
Porque Dickens mesmo, sutilmente, só é mencionado na página 522 - e aparece com uma elegância que reforça a homenagem que a própria autora está fazendo a ele.
Porque a cada guinada que a história dá - e eu enumerei apenas algumas delas acima, para não cutucar de perto a "brigada do spoiler" - você se sente não desanimado de enfrentar mais uma dezena de páginas, mas estimulado por não acreditar que Tartt conseguiu (novamente) sequestrar sua atenção.
Porque, na página 706, Hobie (o restaurador sócio do antiquário) dá essa explicação: "Se uma pintura realmente afeta e muda sua maneira de ver, de pensar, de sentir, você não pensa 'Ah, eu amo essa pintura porque ela é universal. Eu amo essa pintura porque ela fala a toda humanidade.' Não é por isso que alguém ama uma obra de arte. É um sussurro secreto vindo de um beco. Psst, você. Eu, garoto. Sim, você."
Porque no discurso final, quando Theo nos explica a razão de ter resolvido escrever sua história, a autora ainda te consegue fazer chorar, e você fica ligeiramente indignado de perceber que se entregou de maneira tão fiel a sua narrativa, apenas para levar aquela punhalada de emoção nas duas últimas páginas, literalmente - mundo injusto...
Porque no último parágrafo (e isso não é um "spoiler", juro), Tartt usa a voz de Theo para escrever: "E, no meio do nosso morrer, enquanto saímos do orgânico e afundamos ignominiosamente de volta nele, é uma glória e um privilégio amar o que a Morte não toca".
Diante disso, todas as 719 páginas não pesam no nosso ombro mais que um folhetim. Em compensação, as lembranças de tudo que você amou - e que a Morte nunca vai tocar -, os livros, as pinturas, os filmes, as músicas, os lugares, e até mesmo seus amores (os eternos), ganha um peso muito maior do que você jamais imaginou. E é isso que te move.
O refrão nosso de cada dia:"Habits (stay high)", Tove Lo - com 28 milhões de acessos (só no YouTube), estou ciente de que não estou aqui exatamente apresentando uma novidade. Mas a sueca Tove Lo, virtualmente desconhecida até estourar com esse sucesso, fez simplesmente a melhor música pop do ano - desbancando, em termos de originalidade (veja o clipe até o fim para reforçar este ponto) todo pelotão de vozes femininas que reinou nos últimos anos - de Kate Perry a Beyoncé - mas que tem apresentado, com todo o respeito, mais do mesmo. "Habits" é não só estupidamente original como irremediavelmente viciante.







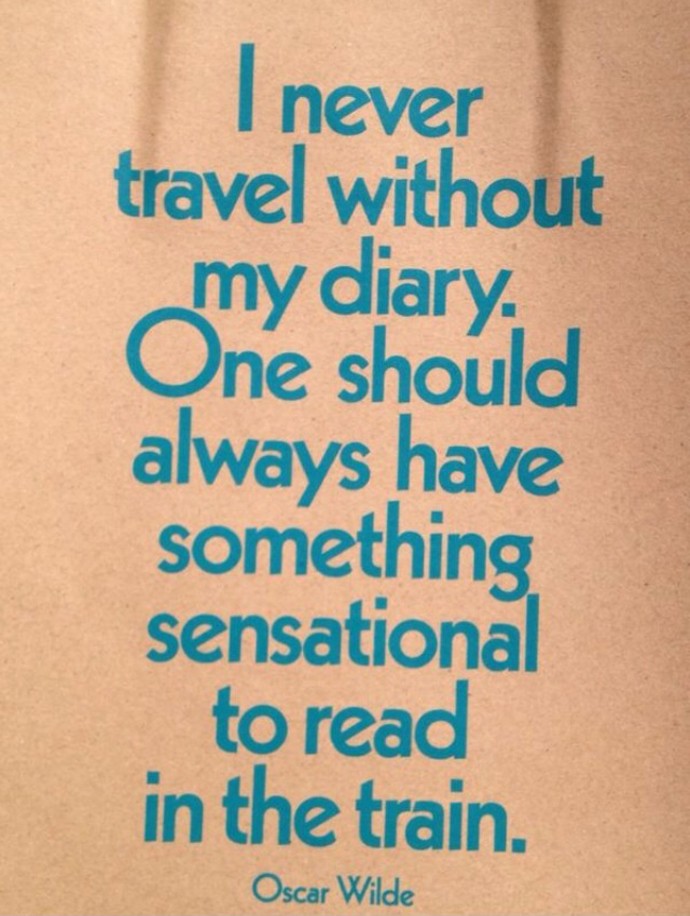























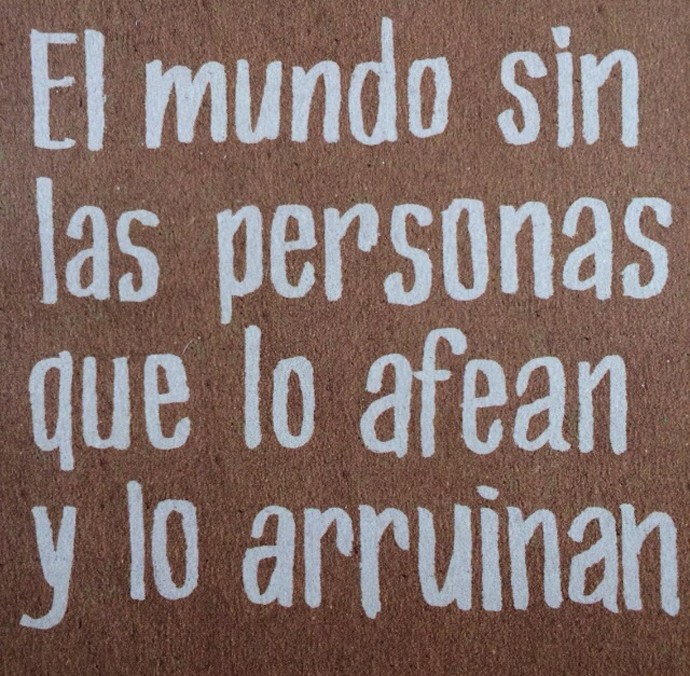













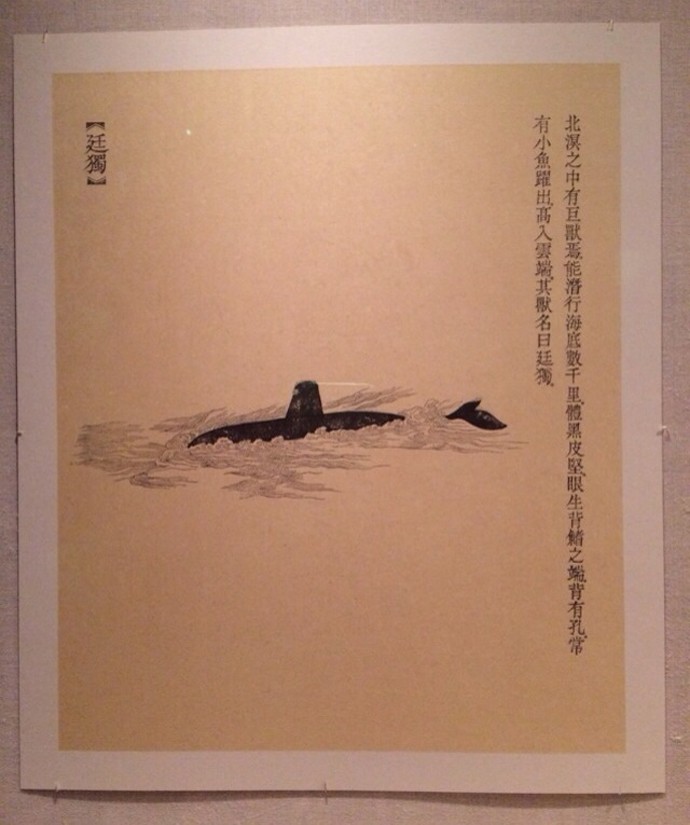

 Você também anda achando tudo meio sem graça, tudo meio parecido. Olha as prateleiras (virtuais ou físicas) e não tem vontade de ler nada? Consulta a lista de filmes em cartaz e não se anima com coisa alguma? Passeia pelas vitrines de shoppings e não encontra nada que tenha vontade de comprar? Ou ainda, anda meio cansado ou cansada da discussão de ideias que andam por aí – sobretudo nesta ressaca de eleição presidencial? Fique tranquilo – você não está só nessa sensação. E já inventaram até um nome para isso: é o "neo medíocre", que, para facilitar por aqui, eu rebatizei de "neomed".
Você também anda achando tudo meio sem graça, tudo meio parecido. Olha as prateleiras (virtuais ou físicas) e não tem vontade de ler nada? Consulta a lista de filmes em cartaz e não se anima com coisa alguma? Passeia pelas vitrines de shoppings e não encontra nada que tenha vontade de comprar? Ou ainda, anda meio cansado ou cansada da discussão de ideias que andam por aí – sobretudo nesta ressaca de eleição presidencial? Fique tranquilo – você não está só nessa sensação. E já inventaram até um nome para isso: é o "neo medíocre", que, para facilitar por aqui, eu rebatizei de "neomed".
 Potencializada hoje pelas redes sociais, parece que estamos cada vez mais encantados em ver a vida se desenrolar diante de nós, sem muito drama - ou melhor, com o simples drama do cotidiano. "Boyhood" é um sofisticado exemplo disso, assim como um livro que estou lendo agora - a segunda parte de uma saga de seis volumes que é uma sensação literária: "Minha luta 2 - um outro amor", do norueguês Karl Ove Knausgård.
Potencializada hoje pelas redes sociais, parece que estamos cada vez mais encantados em ver a vida se desenrolar diante de nós, sem muito drama - ou melhor, com o simples drama do cotidiano. "Boyhood" é um sofisticado exemplo disso, assim como um livro que estou lendo agora - a segunda parte de uma saga de seis volumes que é uma sensação literária: "Minha luta 2 - um outro amor", do norueguês Karl Ove Knausgård.  O primeiro CD que comprei na minha vida foi "Be yourself tonight", do Eurythmics. Era o ano de 1985 e, embora eu já tivesse visto vários títulos à venda nas vitrines da extinta HMV da Oxford Street, em Londres (de onde eu tinha voltado numa viagem recente), a oferta no Brasil ainda era limitada. Tanto de discos como de aparelhos, ou seja, os "tocadores de CD". Desconfio até que comprei as duas coisas juntas: o aparelho e o CD. O que me lembro bem é de chegar excitado em casa; desembrulhar a embalagem de acrílico transparente, que vinha envolta em uma película fina; encontrar aquele círculo reluzente, com informações básicas do que eu estava prestes a ouvir (seriam anos até alguém ousar estampar algo diferente naquela superfície); abrir a "gaveta" do tocador de CDs; colocar com extremo cuidado aquele objeto prateado no espaço perfurado (que permitia que o raio laser lesse os "zeros e uns" impressos em uma de suas camadas compactas); apertar a tecla para que a gaveta se fechasse; ouvir o robótico barulhinho de reconhecimento do que ali estava gravado - um rápido "zzziiit!" finalizado com "pfiu" desacelerando; e, enfim, ouvir a introdução costurada na guitarra de David Stewart e enriquecida de metais pesados, seguida de um coro de "soul" puro entoando o título da primeira música ("Would I lie to you?") e a voz de de Annie Lennox rasgando um "ahhhh-yeah"...
O primeiro CD que comprei na minha vida foi "Be yourself tonight", do Eurythmics. Era o ano de 1985 e, embora eu já tivesse visto vários títulos à venda nas vitrines da extinta HMV da Oxford Street, em Londres (de onde eu tinha voltado numa viagem recente), a oferta no Brasil ainda era limitada. Tanto de discos como de aparelhos, ou seja, os "tocadores de CD". Desconfio até que comprei as duas coisas juntas: o aparelho e o CD. O que me lembro bem é de chegar excitado em casa; desembrulhar a embalagem de acrílico transparente, que vinha envolta em uma película fina; encontrar aquele círculo reluzente, com informações básicas do que eu estava prestes a ouvir (seriam anos até alguém ousar estampar algo diferente naquela superfície); abrir a "gaveta" do tocador de CDs; colocar com extremo cuidado aquele objeto prateado no espaço perfurado (que permitia que o raio laser lesse os "zeros e uns" impressos em uma de suas camadas compactas); apertar a tecla para que a gaveta se fechasse; ouvir o robótico barulhinho de reconhecimento do que ali estava gravado - um rápido "zzziiit!" finalizado com "pfiu" desacelerando; e, enfim, ouvir a introdução costurada na guitarra de David Stewart e enriquecida de metais pesados, seguida de um coro de "soul" puro entoando o título da primeira música ("Would I lie to you?") e a voz de de Annie Lennox rasgando um "ahhhh-yeah"...  Só não consegui comprar, mesmo virtualmente, um disco que queria muito, pois ele estava em pré-venda. Assim, ansioso que estava para ouvi-lo, encomendei o álbum numa loja virtual, no formato CD mesmo – e ele chegou para mim na semana passada. E este foi o último CD que comprei na minha vida: "Nostalgia", de Annie Lennox. Uma escolha que, digamos, fecha um ciclo: se comecei minha coleção com Eurythmics, nada mais apropriado que fechá-la com o trabalho mais recente da cantora desta banda. E não estou nem levando em conta o título do trabalho...
Só não consegui comprar, mesmo virtualmente, um disco que queria muito, pois ele estava em pré-venda. Assim, ansioso que estava para ouvi-lo, encomendei o álbum numa loja virtual, no formato CD mesmo – e ele chegou para mim na semana passada. E este foi o último CD que comprei na minha vida: "Nostalgia", de Annie Lennox. Uma escolha que, digamos, fecha um ciclo: se comecei minha coleção com Eurythmics, nada mais apropriado que fechá-la com o trabalho mais recente da cantora desta banda. E não estou nem levando em conta o título do trabalho... "A história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa". Quando escreveu isso, Karl Marx referia-se à diferença entre dois "Bonapartes" – Napoleão e seu sobrinho Luís Napoleão (Napoleão III) –, num contexto tão sofisticado que eu precisaria de incontáveis parágrafos aqui para descrevê-lo propriamente. No entanto, a famosa frase de Marx provou-se uma daquelas sabedorias universais, possíveis de serem usadas em múltiplas situações, em eras diversas, em contextos dos mais variados. Por isso, foi exatamente esta frase que me veio à memória quando vi, recentemente, o "affair Adnet" se multiplicar como um fungo maldito na internet desde a última sexta-feira (7).
"A história se repete, primeiro como tragédia, depois como farsa". Quando escreveu isso, Karl Marx referia-se à diferença entre dois "Bonapartes" – Napoleão e seu sobrinho Luís Napoleão (Napoleão III) –, num contexto tão sofisticado que eu precisaria de incontáveis parágrafos aqui para descrevê-lo propriamente. No entanto, a famosa frase de Marx provou-se uma daquelas sabedorias universais, possíveis de serem usadas em múltiplas situações, em eras diversas, em contextos dos mais variados. Por isso, foi exatamente esta frase que me veio à memória quando vi, recentemente, o "affair Adnet" se multiplicar como um fungo maldito na internet desde a última sexta-feira (7).  Vamos começar com um argumento bem básico: porque você talvez nunca tenha lido um livro de 719 páginas. O volume, para uma geração que se comunica em emojis (outro dia, lendo sobre a participação de Bibi Ferreira - 92 anos e inspirada! - no programa "Roda Viva", fiquei imaginando como seria pedir para ela se expressar só com esses símbolos, mas sei que divago já no primeiro parágrafo, e isso depois de ficar quase duas semanas sem escrever nada aqui, o que é um evidente mau sinal...) - enfim, o ameaçador tijolo de 719 páginas é uma espécie de campanha do balde de gelo, sem a conscientização da doença que a provocou.
Vamos começar com um argumento bem básico: porque você talvez nunca tenha lido um livro de 719 páginas. O volume, para uma geração que se comunica em emojis (outro dia, lendo sobre a participação de Bibi Ferreira - 92 anos e inspirada! - no programa "Roda Viva", fiquei imaginando como seria pedir para ela se expressar só com esses símbolos, mas sei que divago já no primeiro parágrafo, e isso depois de ficar quase duas semanas sem escrever nada aqui, o que é um evidente mau sinal...) - enfim, o ameaçador tijolo de 719 páginas é uma espécie de campanha do balde de gelo, sem a conscientização da doença que a provocou.