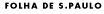|
Texto Anterior | Próximo Texto | Índice
NELSON ASCHER
As dificuldades de Tony Blair
Há muito tempo não se assiste a algo tão estranho
quanto o desenlace da batalha do
Iraque.
Convém enfatizar que a ocupação não foi uma guerra, ou seja,
uma operação completa que se
explica por si mesma, mas sim um
lance tático que só pode ser interpretado no horizonte estratégico
de um jogo planetário. Quem ignore tal contextualização tampouco entenderia por que, após
serem atacados pelos japoneses
no Havaí em 1941, os EUA contra-atacaram no ano seguinte tomando possessões francesas no
norte da África.
Os desdobramentos em questão
nada têm a ver com a campanha
assassina conduzida no próprio
Iraque por mercenários e fanáticos religiosos geralmente estrangeiros e voltada cada vez mais
contra a população local. Campanhas semelhantes não são raras,
prolongam-se sob a forma de conflitos de baixa intensidade e quase sempre malogram.
O que há de novo é que muitos
dos que conspiraram para salvar
Saddam Hussein não se conformaram com o resultado do confronto e seguem tentando revertê-lo ou, pelo menos, fazer os responsáveis pela vitória relâmpago pagarem por ela um alto preço político. A querela em torno das armas de destruição em massa, que
nunca foram o motivo fundamental da invasão, converteu-se
em tópico proeminente na atual
disputa presidencial norte-americana, com os democratas valendo-se de sua misteriosa ausência
para encenarem uma imensa indignação. O eleitorado, contudo,
vem dando uma atenção decrescente ao tema que, quando chegar a hora do voto, terá provavelmente se esgotado.
A situação na Inglaterra é diferente. Como esta não sofreu um
ataque direto de forças convergentes do nacionalismo árabe e
do fundamentalismo islâmico,
sua população, ou parte dela, não
se considera envolvida numa
guerra mundial. Daí que a presente administração, sem poder
contar, como a dos EUA, com a
compreensão tácita dos eleitores,
se visse obrigada a apresentar um
"casus belli" ostensivamente vinculado a Bagdá. Há boas razões
para os membros da coalizão anglo-americano-australiana, definindo o inimigo pudicamente como o terrorismo, não se declararem em guerra com uma parcela
significativa e militante do mundo árabe-islâmico. No Reino Unido, com seu governo liberal, uma
das principais provém da correção política.
O primeiro-ministro teve, no semestre anterior à invasão, de enfrentar, além da oposição encastelada em seu partido, uma tentativa de desestabilização possivelmente orquestrada pelo casal
franco-germânico, tentativa cujo
fracasso decorreu do "faux pas"
de Jacques Chirac, que, brandindo a ameaça de veto no Conselho
de Segurança da ONU, trouxe à
memória dos britânicos desavenças seculares e aglutinou o parlamento em torno de seu líder. Mas
nem a facilidade, nem o baixo
custo humano da invasão o salvaram de dificuldades subsequentes. Levou meses para que se
patenteasse a má-fé da BBC, epicentro do clima antiguerra, e, semana passada, após constatar
que Katharine Gun, uma funcionária dos serviços de inteligência,
não seria punida por acusar seus
chefes de monitorarem as conversas de diplomatas do Conselho de
Segurança, Clare Short, ex-ministra de Desenvolvimento Internacional, que havia se demitido em
protesto contra a invasão (embora apenas depois desta), aproveitou para declarar que o governo
ao qual pertencera havia espionado o secretário-geral da ONU,
Kofi Annan.
Ninguém acima da idade do
chocalho ignora que essa é a função dos serviços secretos, que na
comunidade internacional todos
monitoram ou espionam todos,
inimigos e amigos. Daí que a denúncia de Short fosse repudiada à
esquerda, à direita e, o que é pior
no seu caso, pelo grande rival de
Blair, o ministro da Fazenda,
Gordon Brown, para cuja ascensão ela pensava contribuir. O efeito cumulativo desses episódios
acabou, no entanto, desgastando
a atual administração, tornando-a, afinal, incapaz de se aliar efetivamente com seu parceiro estratégico americano nas próximas
batalhas. E, se existe um culpado,
ele se chama Tony Blair.
De quanto se possa depreender,
os atentados binladenistas dividiram, no ato, a administração
Bush em duas facções: de um lado, o secretário de Defesa, Donald
Rumsfeld, queria ação e, do outro, o secretário de Estado, Colin
Powell, pedia tempo para negociar com aliados reais ou imaginários. O primeiro pretendia usar
a "janela de oportunidade" para
invadir logo o Iraque, enquanto o
segundo julgava mais justificável,
diante da opinião pública internacional, começar pelo Afeganistão. Se bem que Powell tenha ganhado pontos importantes torcendo o braço do ditador paquistanês Pervez Musharraf, parece
que foi Blair que fez a balança
pender decisivamente para seu
lado. Por quê?
A aliança de um primeiro-ministro inglês socialista, internacionalista e desejoso de "colocar
seu país no âmago da Europa"
com um presidente americano
conservador e nacionalista não
está, a rigor, entre as mais óbvias.
Bill Clinton, o anti-Bush, fora o
parceiro natural de Blair e ambos
criaram juntos a "terceira via"
que caracterizou os anos 90. Se este, a partir de 11 de Setembro de
2001, apoiou os planos de George
W. Bush, foi por ter intuído que
somente assim seria capaz de resgatar o que se edificara ou se consolidara na década anterior, da
ONU à Corte Penal Internacional, da União Européia ao protocolo de Kyoto. Blair que, ao contrário de seus vizinhos continentais, acredita sinceramente nessas
organizações, tratados e causas,
assumiu os riscos que supunha
necessários para salvar um sistema inteiro tornado subitamente
obsoleto. Ele talvez ainda tenha
de pagar por isso.
Texto Anterior: Animação: Robôs japoneses aterrissam no Brasil
Próximo Texto: Abraço de urso
Índice
|